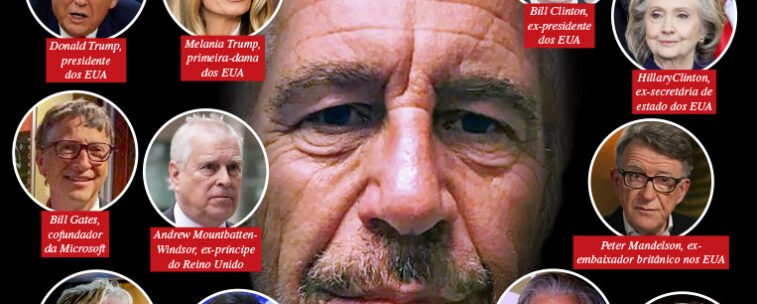28/11/2007 - 10:00

BRUXARIA O sentimento de horror em O sabá das bruxas, de Francisco Goya
Louvada em prosa e verso, a beleza tem ocupado a mente de filósofos e artistas desde os tempos da antigüidade clássica, que estabeleceu o cânone das medidas justas, aquelas proporções hoje perseguidas incansavelmente nas academias de ginástica e nas clínicas de cirurgia plástica. E a feiúra, essa pobre coitada que só inspira desprezo e repulsa, quando muito uma pequena dose de compaixão e piedade? É sobre ela que o escritor e semiólogo italiano Umberto Eco debruça sua inteligência e curiosidade em A história da feiúra (Record, 454 págs., R$ 120) – e, como se espera desse monstro de erudição, o resultado é um livro extraordinário. Com a habilidade dos grandes enciclopedistas, Eco vai enumerando trechos filosóficos e literários e reproduções de obras de arte, cartazes, cenas de filmes. Ao final, o que se tem é um dos maiores painéis já feitos sobre o assunto. Lançado com estardalhaço na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em outubro, o livro está sendo traduzido para 27 idiomas e promete fazer mais sucesso que a sua obra anterior, A história da beleza, que vendeu mais de 500 mil exemplares. Mesmo porque, como declarou o autor, “a feiúra é mais interessante que a beleza, porque não conhece limites. A beleza é freqüentemente entediante”.

VELHICE A mulher grotesca, tela atribuída ao holandês Quentin Metsys
A primeira coisa que Eco deixa claro é que beleza e feiúra não podem ser vistas como antônimos. Ele lembra que na primeira e mais completa análise estética do grotesco, de 1853, o filósofo alemão Karl Rozenkrantz traça uma analogia entre o feio e o mal moral segundo essa mesma oposição óbvia. “Enquanto para todos os sinônimos de belo seria possível conceber uma reação de apreciação desinteressada, quase todos os sinônimos de feio implicam sempre uma reação de nojo, se não de violenta repulsa, horror ou susto”, escreve Eco. Ou seja, não existe uma visão do horrendo e do monstruoso sem um conseqüente juízo de valor. Outra constatação: a de que o gosto varia com a época e com a cultura de determinado lugar ou país. Já nessa abordagem inicial, o italiano lança mão de uma citação. Quem é lembrado é o filósofo francês Voltaire, em seu Dicionário filosófico: “Perguntem a um sapo o que é a beleza, o verdadeiro belo. Ele responderá que consiste em sua fêmea, com seus dois belos olhões redondos que se destacam na cabeça pequena, a garganta larga e chata, o ventre amarelo e o dorso escuro.” Eco tem uma biblioteca de 30 mil volumes em sua casa em Milão. Citação erudita, então, é o que não falta em sua História da feiúra. Um trecho de Ilíada, no qual Homero descreve a “fealdade física e moral” do soldado Tersites, é tido como exemplo clássico, usado na Poética de Aristóteles, de como se pode descrever belamente as coisas feias. “Dos cercames feiíssimo, (Tersites) era manco, vesgo e giboso, e tinha o peito arcado e em pontuda cabeça umas falripas: mordia sempre Ulisses e o Pelides, cego de inveja.” Esse trecho está no capítulo O feio no mundo clássico, que se abre com a imagem de uma estátua de bronze de um sátiro, homem rústico, lúbrico e beberrão dos bacanais dionisíacos. Em seu mapeamento de bichos de sete cabeças, mulheres bexiguentas, homens glutões e toda sorte de deformados, Eco ajusta o foco em épocas determinadas. A Idade Média e sua representação sanguinolenta da paixão de Cristo (enfeado para ganhar a adesão do fiel), o barroco e sua visão misógina da mulher (uma forma de desvalorizar sua malícia e estratégia de sedução) e o romantismo e sua recuperação do monstruoso ganharam capítulos específicos. Ao todo, são 15 partes, do mundo grego aos dias de hoje, quando são lembrados roqueiros como Marilyn Manson e criações cinematográficas como ET e Yoda, de Guerra nas estrelas.

DESEQUILÍBRIO Estátua grega de um sátiro, feita em bronze e datada do séc. IV ªC.
Em relação ao diabo, símbolo máximo da feiúra no mundo cristão, Eco mostra que foi apenas a partir do século XI que o “maligno” começou a aparecer como “um monstro dotado de cauda, orelhas animalescas, barbicha caprina, artelhos, patas e chifres, adquirindo também asas de morcego”. No entanto, os seres híbridos de um modo geral não eram lançados na vala comum do hediondo pelos religiosos da época, que costumavam representá- los até nos capitéis das igrejas. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que os monstros eram belos enquanto filhos de Deus. Trata-se de um raciocínio que continua valendo para toda sorte de deserdados, especialmente quando aparece na arte o “feio infeliz” do romantismo, cujos grandes exemplos são o Frankenstein de Mary Shelley e o corcunda de Victor Hugo. A grande dificuldade apontada por Eco é que o gosto de uma época não corresponde necessariamente ao gosto dos seus artistas. Ele cita a arte moderna, que incorporou o grotesco para “chocar o burguês”. Se um ET caísse no Museu Picasso, iria pensar que o padrão de beleza feminina era o daquelas horripilantes mulheres cubistas. Mas bastaria pisar num fashion week da vida para constatar que o modelo estético atual não inclui mulheres com um olho na testa e outro no queixo. Aliás, sobre as “beldades” mostradas no livro, Eco foi categórico: “Não fazem o meu tipo.”


DEFORMAÇÃO Boris Karloff no papel de Frankenstein, exemplo do feio gótico
SOFRIMENTO A coluna destruída, auto-retrato da mexicana Frida Kahlo