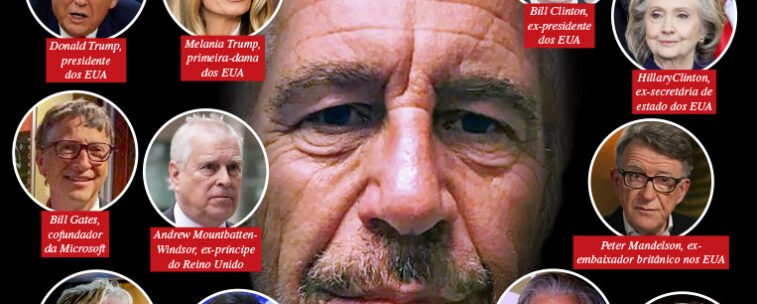03/03/2004 - 10:00
Ao descrever o frenesi causado pela chegada dos primeiros bondes elétricos nas ruas de São Paulo, no início do século XX, o escritor Oswald de Andrade enquadrou uma cena de agitação e barulho. “Um murmúrio tomou conta dos ajuntamentos. Lá vinha o bicho! O veículo amarelo e grande ocupou os trilhos do centro da via pública. Um homem de farda azul e boné o conduzia. Uma forte campainha tilintava abrindo alas convergentes do povo”, escrevera o autor em
Um homem sem profissão: sob as ordens de mamãe. No Rio de Janeiro, antiga capital da República, os novos veículos coletivos também já transitavam pela cidade de forma ruidosa, levando para seu interior a modernidade na forma de anúncios, alguns em poemas como um escrito para vender um xarope popular.
“Veja ilustre passageiro/o belo tipo faceiro/que o senhor tem a seu lado/E, no entanto, acredite,/quase morreu de bronquite,/salvou-o o Rhum Creosotado”. A evocação de um tempo em que se escrevia
rum com “h” e que bronquite ameaçava a vida é feita em dois livros dedicados ao passado tranquilo das duas maiores metrópoles brasileiras – São Paulo de Piratininga: de pouso de tropas a metrópole (O Estado de São Paulo/Editora Terceiro Nome, 256 págs., R$ 130), com textos de Ruy Mesquita Filho e José Alfredo Vidigal Pontes, e Diário da cidade amada – Rio de Janeiro 1922 (Sextante, 1.776 págs., R$ 149), de Antonio Bulhões, editado em três volumes.
Reunindo 273 fotos em preto-e-branco, São Paulo de Piratininga traz
um belo panorama da capital paulista de 1860 a 1930, justamente o período no qual a cidade salta de pacato vilarejo a metrópole de feições européias. A maioria dos registros é de autoria do fotógrafo italiano Aurelio Becherini e está concentrada entre os anos 1911 e 1918. Mas também existem imagens assinadas pelo carioca Militão Augusto de Azevedo, o primeiro a retratar São Paulo, e do suíço Guilherme Gaensly. O conjunto revela uma criteriosa seleção das 700 fotos encontradas em 2000 durante uma reforma no Centro de Documentação e Informação do jornal O Estado de S.Paulo. A identificação do material foi feita pelo arquiteto Julio Abe Wakahara e pelo historiador José Alfredo Vidigal Pontes, autor de São Paulo – registros e A cidade da Light, ambos com fotos de Guilherme Gaensly. “São imagens que revelam o primeiro momento da urbanização acelerada de São Paulo, que começa em 1865 com a construção das ferrovias num desdobramento do avanço da cafeicultura e não pára mais”, explica Pontes.
Não por acaso, a edição das fotos refaz o crescimento da cidade, do centro histórico em direção aos bairros. “É curioso ver a diversidade de tipos retratados”, enfatiza o historiador, destacando traços populares nos arredores e o clima mais burguês das ruas do centro, em que o uso do chapéu passa a ser elemento constante da indumentária. A chegada de italianos, franceses e alemães é fato marcante nos tempos modernos da capital paulista. Até 1850, escreve Pontes, o comércio da cidade restringia-se a armazéns de secos e molhados, quase todos pertencentes a portugueses, a algumas hospedarias rústicas para tropeiros e a lojas de panos de algodão. Em 1904, é inaugurada a Casa Alemã e, oito anos depois, a Mappin Stores, a primeira loja de departamentos.
Prosa delicada – Embora também recheado de belas fotos da cena carioca, Diário da cidade amada acaba encantando mais pela prosa delicada, bem-humorada e surpreendente para um livro do seu porte. Mesmo fixando no subtítulo uma cidade e uma data, a obra passeia
por vários anos à frente e atrás e atravessa fronteiras estaduais
e até federais. “O Rio é a base de origem. Se os efeitos dos temas abordados se espraiam por outros lugares, vou lá”, diz Antonio Bulhões, um simpático carioca de 78 anos que expõe uma teoria de que a Semana de Arte Moderna foi “uma realização paulista de inspiração carioca”. Nada teria acontecido, segundo Bulhões, sem o empurrão dos cariocas Di Cavalcanti e Villa-Lobos. Admite, contudo, que, apesar de o Rio de então ser o principal hospedeiro dos fenômenos culturais, políticos e econômicos, foi em solo paulistano que a Semana encontrou sua “seara fértil” com o apoio e o dinheiro de intelectuais como Paulo Prado. O tema é revisitado várias vezes, mas a malha de assuntos é extensa e cuidadosamente entrelaçada.
Pelo estilo divorciado de burocracias de Bulhões, é gratificante estudar a evolução comportamental da cidade e do próprio País ao longo dos três livros. Testemunha das transformações, Antonio Bulhões de Carvalho – nome completo usado apenas na atividade principal, a advocacia –, nascido em 1925, empresta seu olhar melancólico e dá charme adicional à obra. Morador de Copacabana, ele sempre frequentou a noite e a intelectualidade. Com tais credenciais, Bulhões diz: “No atacado, o carioca é objetivo. Sabe que não pode confiar inteiramente em governo, o que o situa, em princípio, na oposição. É antidogmático: sabe que a unanimidade é estúpida, prefere a controvérsia. É sincero, sabe que mais depressa se pega um
mentiroso do que um coxo.” Quem destoar destas características atuantes em conjunto, frisa o autor, pode até ter nascido no Rio de Janeiro, mas não será carioca.