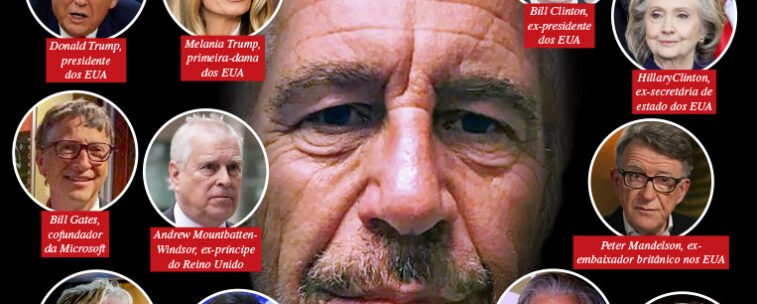17/07/2002 - 10:00
No concorrido universo da globalização, três palavras valem por milhões. Coca-Cola, Microsoft e Amazônia são as marcas mais frescas na memória dos consumidores. Verdadeiros ícones do capitalismo, as duas primeiras faturaram mais de US$ 20 bilhões no ano passado e aparecem entre as 100 maiores empresas eleitas pela revista Fortune. Já a floresta Amazônica administra aos trancos e barrancos os interesses dos quase 20 milhões de habitantes espalhados por nove Estados que cobrem dois terços do território brasileiro. Nos igarapés, sombreados por árvores imensas, circula um quinto da água potável do planeta e boa parte das espécies de plantas e animais. Apesar desse patrimônio de valor incalculável, a mata devolve pouca riqueza aos seus filhos. O mais ilustre deles, o líder sindical Chico Mendes, foi morto a tiros em 1988 por latifundiários contrários ao seu maior devaneio, o de preservar a selva para retirar dela os recursos necessários à sobrevivência dos nativos. Seu lema era conquistar o “empate” no jogo contra os fazendeiros, o que se poderia traduzir em melhor qualidade de vida, progresso socioeconômico e conservação da natureza, os pilares do chamado desenvolvimento sustentável. Quatorze anos após sua execução, um assentamento em Xapuri, no Acre, recebeu o nome do seringueiro que ali viveu e se tornou a primeira reserva do País a extrair madeira com selo verde.
As toras ecologicamente corretas viraram matéria-prima para seis designers criarem móveis para vender em São Paulo, destino de duas entre dez árvores derrubadas ilegalmente na Amazônia. “Nesse jogo, o empate ocorre dentro da comunidade seringueira, que se une para tornar a floresta em pé mais valiosa do que quando explorada pela agricultura e a pecuária”, explica o engenheiro florestal Virgílio Viana, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). Em vez do cobiçado mogno, os móveis são esculpidos em árvores menos nobres como pau-marfim, sucupira, cedro e timbaúba. Para cumprir o manejo sustentável, cada uma das 240 famílias pode derrubar árvores adultas numa área de dois hectares por ano, desde que plante mudas para assegurar seu sustento no futuro.
A idéia de ressuscitar o projeto de Chico Mendes partiu do professor Virgílio Viana, mas foi adiante porque a designer paulista Etel Carmona criou a coleção de móveis Jóias da Floresta. “Posso garantir que dá para ganhar dinheiro com madeira certificada, que custa 30% mais caro”, compara a empresária, criadora do revisteiro em cedro e sucupira vendido a R$ 3.600. Cadeiras, poltronas, estantes e mesas custam entre R$ 1 mil e R$ 4.500. Em Xapuri, vender madeira ilegal deixou de ser lucrativo. Etel paga R$ 580 pelo metro cúbico da madeira com selo verde, quase o mesmo valor negociado na clandestinidade. “Aproveito a árvore de A a Z. Folhas viram adubo, raiz e galhos viram vasos, varetas são lenha para a estufa que seca a madeira em Xapuri”, detalha a empresária, que revende algumas peças para uma loja em Nova York. Que fique claro: ninguém aqui é filantropo. Todos estão dispostos a lucrar com a natureza. “Nosso desafio é tornar a floresta o vetor do desenvolvimento da Amazônia, com geração de emprego, renda para diminuir a pobreza e estimular a conservação”, resume Viana.
As políticas para promover o crescimento econômico sem destruir a natureza serão o tema da Rio +10, conferência que acontece no próximo mês, em Johannesburgo, África do Sul. Uma das propostas será tirar do papel as boas intenções descritas na Agenda 21, documento assinado por 179 nações em que se definiram os compromissos para conter a degradação ambiental e estancar a pobreza. Na terça-feira 16, o presidente FHC deve assinar a versão nacional do texto, que tem 5.839 propostas. “É uma agenda da sociedade, com dever de casa para os cidadãos e sugestões para direcionar a aplicação dos recursos públicos”, diz a cearense Maria do Carmo Lima Bezerra, coordenadora do projeto.
Castanha e malária – Alijadas da sociedade de consumo, seis em cada dez das pessoas mais pobres do planeta são empurradas para florestas, áreas áridas e íngremes ou então para favelas dos grandes centros. A falta de infra-estrutura faz parte do cotidiano de quem mora nos rincões da maior floresta tropical do mundo. Nas margens do rio Jari, quase nas costas da cachoeira de Santo Antônio, vive a comunidade de Iratapuru, um modelo de desenvolvimento sustentável. Os 200 moradores da reserva criada em 1997 se uniram numa cooperativa para transformar em biscoito as castanhas-do-brasil que há gerações seus parentes recolhem da mata. Desde os oito anos, o paraense Delbanor Melo Viana, o Arraia, se habituou a pular da rede às três da madrugada para acompanhar o pai castanheiro. Acostumou-se à idéia de ter trabalho de janeiro a julho, temporada de castanha, e nos demais meses do ano a sair à cata do leite das seringueiras. Aos 46 anos e tantas malárias que perdeu a conta, ele
hoje administra os problemas da fábrica de biscoitos inaugurada em fevereiro, com uma produção mensal de 16 toneladas. Os petiscos vendidos a R$ 3 o quilo dão sustento a 13 dos 152 moradores da reserva – boa parte são mulheres, que exercem papel importante como força de trabalho, uma herança cultural indígena. Apesar de empregar só 10% dos moradores, os biscoitos mobilizam quase todos eles. A simples existência da fábrica alimenta os sonhos de Arraia de construir um futuro melhor para seus dez filhos. Ficou no passado o fantasma da escravidão a que sua família, assim como tantas outras, se submeteu. “Antes a gente trocava castanha por comida e mercadoria, nem via a cor do dinheiro e ainda por cima ficava devendo”, lembra Arraia. Seu destino começou a mudar em 1995, quando a reserva recebeu financiamento de R$ 25 mil para comprar as castanhas usadas na produção das iguarias.
Num caderno guardado como troféu, Arraia coleciona fotos dos visitantes ilustres. A placa de boas-vindas em Iratapuru é, em si, um atrativo: foi entalhada em três idiomas, português, inglês e francês. Naquelas terras já pisaram embaixadores franceses, diplomatas japoneses, candidatos à Presidência, turistas e curiosos de várias nacionalidades. O modelo de trabalho cooperado inspirou outras regiões a vender mel, camarão na salmoura, polpa de açaí, óleo de copaíba e de andiroba.
Soluções – Uma história comum na Amazônia é a do caboclo que, sem alternativa, sucumbe à tentação de derrubar árvores para sobreviver. Aos 43 anos, o amapaense Paulo Barbosa de Almeida é uma exceção. Primeiro porque jamais pegou malária nem sangrou de morte uma árvore sequer, ao contrário da maioria das 400 famílias esparramadas pelos três assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Matão do Piaçacá, a oeste de Macapá. Almeida exerce função executiva na cooperativa agroextrativista. Sempre que tem dinheiro para a gasolina, ele monta na sua mobilete e roda os 90 quilômetros de estrada esburacada até a capital onde moram sua mulher e os sete filhos, o menor com nove anos e o maior com 19. No terreno de quatro hectares conquistado em 1996, ele plantou cupuaçu, banana, café, mandioca e caju. Até agora, nada rendeu. “Vou ‘tareando’, fazendo das tripas coração. Sei que regredi e o pouco que eu tinha acabou. Vim em busca de um futuro bom para minha família, mas vivo no limite”, queixa-se. Quando não está de carona ou de mobilete, Almeida usa um calejado meio de transporte, o par de botas de cano alto. Chapéu para se proteger do calor maior pela ausência de sombras, ele percorre a pé os 24 quilômetros que separam seu terreno do centro comercial. Sem crédito para comprar sementes, os assentados se organizam para adiar o pagamento dos empréstimos antigos. O prazo expirou sem que a produção agrícola frutificasse. “A solução é prolongar a dívida porque o cupuaçu vai dar uma hora ou outra”, diz Almeida. Sem tantas ilusões, o cearense Lenilson Marcelino, 30 anos, e o paraense João Júnho Silva, 22, não cogitam abandonar suas terras. Sabem que, se a situação apertar, vão trocar a enxada por uma motosserra para derrubar madeira.
Bye bye Brasil – Para os povos da Amazônia, a vida flui ao sabor das marés. Do curso das águas sai o alimento, a morada, o transporte e o sustento de cada família. Poucos rios, no entanto, concentram tantos contrastes como o Jari, o afluente da margem direita do Amazonas que faz divisa entre o Pará e o Amapá. Ali funciona o que restou do mais ambicioso pólo de desenvolvimento da Amazônia, o Projeto Jari. O transporte do coração do empreendimento, dois monstros de concreto com a altura de prédios de 12 andares, foi planejado em detalhes. Ninguém jamais havia completado tamanha odisséia. A jornada para trazer do Japão uma central termelétrica e uma fábrica de pasta de papel (celulose) reuniu meteorologistas e especialistas em navegação para traçar rotas de fuga numa eventual tempestade em alto-mar. Amarradas a dois rebocadores, as estruturas de 30 mil toneladas cada uma deixaram os estaleiros da Marinha imperial do Japão para cruzar três oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico. A viagem de três meses e US$ 3 milhões terminou em abril de 1978, em pleno inverno amazônico, quando as chuvas caem todos os dias, de outubro a abril. Como excentricidade pouca é bobagem, as usinas cantadas por Chico Buarque na música Bye bye Brasil foram presas ao solo por cinco mil estacas de maçaranduba, madeira que se imagina seja indestrutível.
Autor da façanha, o bilionário americano Daniel Keith Ludwig enterrou US$ 1 bilhão em seu delírio amazônico. Em 1967, ao completar 74 anos, quando a maioria dos mortais pensa em aposentadoria, Ludwig deu seu mais arrojado salto. Comprou um terreno de 1,7 milhão de hectares, ou dois milhões de estádios do Maracanã, para ser o maior fornecedor mundial de matéria-prima para a indústria do papel. Sua empresa, a Jari Florestal e Agropecuária, ou simplesmente Projeto Jari, previa a troca da mata nativa por árvores para abastecer a fábrica de celulose. O megaempreendimento incluía ainda a construção de uma vila com 400 casas pré-fabricadas para os funcionários, hospital, escola, estrada, porto e pista de pouso no meio da selva, a 270 quilômetros de Macapá. Ali, ele plantaria arroz irrigado, criaria búfalos e extrairia caulim, minério usado para dar brilho e acabamento ao papel.
Difícil resistir à comparação entre Ludwig e Fitzcarraldo, personagem do filme homônimo do diretor alemão Werner Herzog. Contaminado pela ambição de encontrar a mítica cidade de Eldorado, onde a lama seria de ouro e os cascais, de pedras preciosas, Fitzcarraldo consegue o impossível: içar seu barco montanha acima, sem uma única gota d’água. As oportunidades de emprego eram muitas no Jari. Ao todo, 100 mil pessoas fixaram residência ao seu redor. O resultado se pode medir num passeio de barco pelo rio Jari. Numa das margens fica a cidade de Monte Dourado, no Pará, onde está a sede da Jari. Na margem oposta está Laranjal do Jari, o terceiro município mais populoso do Amapá, que já ostentou o vergonhoso recorde de maior foco de prostituição infantil. Ambos nasceram em torno da mesma órbita, o projeto de Ludwig, mas trilharam caminhos distintos.
Em Monte Dourado vive-se o Primeiro Mundo em casas com grama aparada, quadra de esportes, loja de cosméticos, escola de informática e escritório de companhia aérea. No Beiradão, onde moram quatro em cada cinco habitantes do Laranjal, estampa-se o retrato do Terceiro Mundo nas dezenas de palafitas cercadas por antenas parabólicas e erguidas sobre um tapete de água fétida onde os moradores despejam seu esgoto e as crianças se refestelam. Quando a noite cai, os bares e boates patrocinam uma guerra de decibéis, luz colorida e muita cachaça. À luz do dia, é raro ver nesse lixão a céu aberto latas de alumínio, papel laminado ou embalagens metalizados, objetos que viram moeda de troca a poucos passos dali. “Cansei de pedir aos meus netos para não catar lixo nessa água suja, mas eles conseguem um dinheirinho que a gente não pode dispensar”, conforma-se Benina Pacheco, que em 1979 trocou a vida na roça no interior do Pará por uma chance no Beiradão. Aos 70 anos, dona Bia mora com uma das filhas e o genro numa palafita de dois andares. No pavimento inferior funciona o modesto comércio de roupas na qual ela e a filha Carmelita passam a maior parte do dia. Dona Bia mudou-se de mala, cuia e duas filhas para o Laranjal seguindo o marido que, cinco anos antes, se empregara como encarregado de solda na Jari. Hoje viúva, dona Bia se recusa a partir. “Aqui tenho casa e comida, a vida que sempre desejei”, conta.
O sonho do americano Ludwig, de levar à selva o conforto de sua casa em Nova York, virou pesadelo na década de 80, quando lhe foi negada a proposta de construção de uma hidrelétrica aos pés da cachoeira de Santo Antônio. A agonia da Jari se prolongou até 2000, quando a Fundação Orsa abocanhou parte da empresa que fabrica celulose por simbólico R$ 1 e assumiu uma dívida de US$ 415 milhões. Hoje as prioridades são outras: contornar a dívida “impagável” e investir na recuperação tecnológica, diz Sergio Amoroso, presidente da fundação e da rebatizada Jari Celulose. Por hora, estão adiados os projetos para reduzir a fumaça preta e o cheiro putrefato exalados pelas chaminés das usinas japonesas. “A substituição do cloro, que dá esse cheiro ruim, custaria US$ 32 milhões e não traz retorno que compense o investimento”, calcula Amoroso. Para aumentar a competitividade da fábrica, diz o executivo, é preciso acelerar a construção da hidrelétrica.
Festa de arromba – O eterno conflito entre o desenvolvimento e as necessidades industriais foi o motivo da falência de outro projeto emblemático, a extração de manganês em Serra do Navio, que durante anos foi a base da economia amapaense. Embora o contrato de concessão das jazidas para a Indústria e Comércio de Minérios (Icomi), subsidiária da americana Bethlehem Steel, só termine em 2003, a empresa encerrou os trabalhos no final de 1997. Não se pode dizer que o minério secou. Ele existe em menos concentração e sai caro demais produzir as pelotas de manganês, usadas na fabricação de ligas de aço, balas para munição e pilhas. Além do Brasil, a Rússia e o Gabão possuem as maiores reservas naturais. Durante a guerra fria, o líder soviético Stalin suspendeu as exportações do minério aos Estados Unidos. A saída foi uma aliança comercial com o Brasil. O contrato de concessão dos 4.820 hectares por meio século foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Em diversas ocasiões se comparou o império da Icomi à construção de Brasília, idealizado por Juscelino Kubitschek. Por isso não houve surpresa quando JK acompanhou o embarque da primeira carga de manganês ao Exterior, o destino de 90% do minério. JK e Getúlio Vargas não foram os únicos presidentes a acompanhar a iniciativa distante 200 quilômetros de Macapá. Café Filho, Médici, Castelo Branco e João Figueiredo nunca esconderam o apreço pela empresa que pagou regiamente, todo último dia útil do mês, o contra-cheque de 15 mil pessoas em seus 44 anos de vida.
Houve um tempo em que ali as festas na selva eram de arromba, o analfabetismo era o menor do País e se assistia aos filmes que acabavam de estrear no Rio. Desse império sobrou uma empresa de reflorestamento para recuperar as áreas devastadas e algumas pedras no meio do caminho. A principal é o destino do lixo tóxico, uma montanha negra de pedras trituradas resultante da mineração. Submetido a altas temperaturas, o manganês libera a substância tóxica arsênio que, supõe-se, pode ter contaminado os moradores do município de Santana, no qual fica o porto para onde seguia o minério exportado. A pendenga se estende por cinco anos e está longe do fim. Os dejetos deveriam ser despejados num aterro construído pela Icomi exatamente onde fica a comunidade de Curiaú, um remanescente dos quilombos. No ano passado, a empresa tentou transportar sua montanha de lixo para lá, mas os moradores de Curiaú depredaram, queimaram e destruíram parte das instalações.
Serra do Navio não virou uma cidade fantasma com a partida da Icomi, mas as 330 casas construídas para os funcionários foram loteadas entre os moradores, a maioria funcionários da prefeitura. Se a vila mostra sinais de abandono, a ferrugem que corrói as estruturas do que foi um modelo de desenvolvimento deixa à mostra o saldo econômico e ambiental dos projetos megalômanos. Historicamente, o destino da Amazônia sempre foi guiado por subsídios e incentivos. Ora com foco na mineração, ora na criação de gado ou na monocultura. Patrocinar o desenvolvimento sustentável talvez seja a única saída para conceder dignidade aos milhões de brasileiros que aprenderam a contar só com as chuvas e as águas dos igarapés como aliados na dura luta pela sobrevivência na selva.