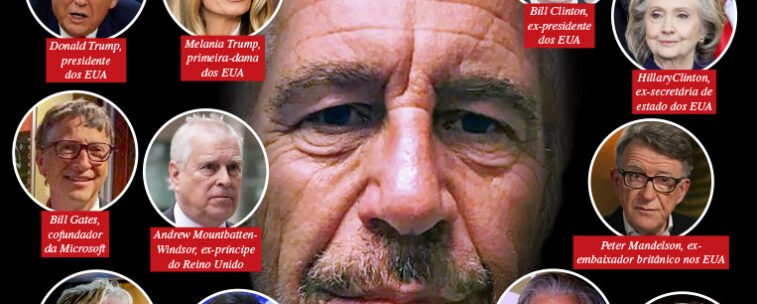30/01/2002 - 10:00
Todos os dias são recolhidos pelo SOS Criança dezenas de meninos e meninas que vivem perambulando pelas ruas de São Paulo. Fogem de suas casas para se tornar ameaças em potencial aos olhos da sociedade. Viram pedintes, limpadores de pára-brisas, vendedores de balas, engraxates. Lotam abrigos à noite, onde comem e dormem, e de manhã retornam para debaixo dos viadutos. É ali que alguns dão os primeiros passos na criminalidade, outros são explorados por adultos e muitos se entregam às drogas. Todos temem a solidão. Seria fácil entender por que essas crianças vivem dessa maneira se elas não tivessem casa nem família. Mas elas têm. O problema é que, para esse batalhão de guris, a rua, com toda a sua crueldade, tem se tornado cada vez mais um lugar melhor do que o ambiente onde moravam.
Do ano de 1999 para cá, o projeto Casa Arte & Vida – abrigo que atende a região central de São Paulo, onde há a maior concentração de crianças de rua – aumentou em 50% o número de acolhimentos. O perfil dos novos frequentadores também preocupa. Mostra que o abandono do lar tem começado mais cedo, dos sete aos nove anos. Juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos e voluntários tentam entender o porquê desse fenômeno. Durante três meses, ISTOÉ acompanhou o trabalho desses profissionais e os relatos de meninos e meninas de rua. Suas histórias já dão uma pista do que vem acontecendo. A miséria, a violência e o fracasso das relações familiares empurram essas crianças para fora de suas casas.
“Minha mãe morreu”, contou Rafael*, dez anos, quando chegou ao Arte & Vida em março deste ano. Era mentira. Mas aquela resposta escondia um fato tão triste quanto a história inventada pelo garoto: a rejeição. A mãe de Rafael não só existe como também sabe o telefone e o endereço do albergue no qual seu filho passa as noites. Nunca ligou para ele, tampouco visitou o lugar. Mora numa casa simples, mas própria, de rua asfaltada, no bairro Capão Redondo. Tem televisão, telefone e geladeira. “É até grande para três moradores”, descreve a assistente social do projeto Geni Cordeiro, referindo-se à mãe, ao padrasto de Rafael e à filha do casal, uma menina de três anos. Em poucos minutos de conversa, a assistente descobriu o motivo de a criança estar na rua. Para a mãe daquele “órfão”, sua nova família é mais importante. “Quando fui conversar com a mãe, ela nem sequer quis saber por que o filho não tinha ido comigo”, lembra ela. Na volta, o garoto perguntou à Geni: “Minha mãe vem me buscar quando?” Foi a vez de a assistente mentir: “Assim que ela puder.” Passados seis meses, Rafael ainda tenta entender por que sua mãe não o procurou até hoje. Ao contar o episódio à reportagem, interrompeu a entrevista para chorar.
Mito – Por mais incrível que possa parecer, são muitos os casos em que a convivência entre mãe e filho torna-se uma obrigação e não um prazer. “O amor materno é um mito”, explica Maria de Lourdes Trassi, supervisora da área da infância do Departamento de Psicologia da PUC-SP. “Como todas as outras relações, a afeição entre a mulher e o seu filho precisa ser desenvolvida”, acrescenta ela. Quando a aproximação não ocorre, o filho passa a ser encarado como um problema a mais na já difícil rotina da família. Beto, 11 anos, dois deles longe de casa, sentiu na própria carne que seu padrasto não o quer perto da mãe. Uma cicatriz na perna direita, feita por um golpe de facão, é sua mais viva lembrança do lar. “Quando disse que ia embora, minha mãe só disse tchau”, conta o menino. Na outra casa, apanhava da madrasta. Desistiu de vez de sua família após a morte do pai e a prisão de sua companheira, acusada de assassiná-lo. Hoje usa um outro nome para evitar que alguém descubra onde ele mora. Roberto, 13 anos, também viu na rua uma rota da fuga da violência da madrasta, mas não perdeu a esperança: “Se meu pai me pedisse perdão e largasse ela eu voltaria.” Sua mãe está em Alagoas com os quatro irmãos, de quatro pais diferentes. Problemas com padrastos e madrastas é o segundo argumento mais usado pelas cerca de mil crianças que já passaram pelo Arte & Vida. “Ele se sente trocado”, explica a coordenadora Ana Célia de Oliveira. “É uma forma de violência tão grave quanto a surra que leva.”
Ringue – Em dois anos de funcionamento, o projeto, pertencente à ONG Centro Comunitário da Criança e do Adolescente, vive de doações e de uma parceria com a prefeitura, mas a verba não é suficiente para fazê-lo funcionar 24 horas. A casa recebe as crianças às 19h, quando elas tomam banho, jantam e participam de uma atividade. Acordam às 7h e saem depois do café. “A gente tenta devolver a auto-estima deles, mas as situações que enfrentam nas ruas os levam de volta ao caminho errado”, avalia Ana Célia. A violência física é o obstáculo mais difícil que os educadores do projeto encontram para reaproximar as crianças das famílias. Renato, 11 anos, diz que até não se importa de apanhar na hora que ele “apronta”. “Triste, tia, é ser maltratado”, explica o menino, mostrando como vê a violência física e a psicológica. “Quando meu pai voltava bêbo, a casa virava ringue de luta livre. Levava surra de cinta, pau e ferro”, completa. Em menos de dois anos, Renato já passou pela Febem e agora frequenta o décimo abrigo. Nenhum projeto social o convence de que a rua não é o lugar para ele. “Em casa é chato, não tem fliperama. Se falta comida ou cobertor é só pedir que a gente ganha”, diz. A adolescente Carla é uma exceção no mundo perverso das crianças de rua. Tinha apenas cinco anos quando abandonou a casa pela primeira vez. De lá para cá, vem fazendo cursos de artesanato, natação, capoeira e dança. Já se apresentou em eventos sobre a infância e escreveu um livro, com outras meninas de rua – trabalho que lhe rendeu uma poupança. Hoje, aos 13 anos, orgulha-se de ser a única de seus 23 irmãos, a maioria deles na rua, que navega na internet e manda e-mails pelo Projeto Clicar, da Estação Ciência, na zona oeste. As boas lembranças, porém, acabam aí. Saiu de casa porque seu pai é alcoólatra e a mãe sofre de problemas mentais. “Quando eu crescer quero ser cientista e estudar a loucura, ou professora de crianças carentes”, sonha a menina, há seis meses morando na Associação Marly Cury, em Pinheiros, que conseguiu devolvê-la para a quinta série do ensino fundamental.
Limites – Maria Amélia Azevedo, coordenadora do Laboratório de Estudos da Criança da USP, explica que a criança suporta a violência da rua porque, quando a sente, já é tarde demais para voltar. “Elas fazem uma análise de custo e benefício e percebem que não compensa ir para casa”, diz a especialista. Nas ruas, não têm hora para dormir, escola ou obrigação de tomar banho. Julgar a casa como um lugar “chato” é, aliás, a terceira resposta mais usada pelas crianças quando explicam o motivo de não estarem lá. Essa liberdade, tão valorizada, também os afasta de projetos sociais que oferecem escola e moradia, mas cobram disciplina e força de vontade. “Impor limites é imprescindível, mas é preciso equilibrar essa cobrança com a possibilidade de construírem as regras da instituição”, aconselha às ONGs o secretário-executivo do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Aluísio Guimarães.
Por causa da indisciplina, João Carlos, 13 anos, destacava-se entre os demais meninos na hora de frequentar algum projeto social. Não queria tomar banho, escovar os dentes ou comer numa mesa. Bastou, porém, uma só visita à casa do menino para desvendar o mistério. Sua família não tinha nenhuma noção de higiene. O lugar cheirava mal em virtude das fezes e do esgoto que se espalhavam pelo quintal. A sujeira se misturava aos colchões dos adultos e aos brinquedos das crianças que engatinhavam naquele chão. Patos e galinhas completavam o cenário. Ao contrário das outras histórias, dessa vez a mãe ficou feliz ao rever o filho. Fez o garoto prometer que não fugiria mais, pois morrera de saudades. O problema ali não era rejeição. “Sua família é que estava condenada”, avalia Roseli Faria, assistente social que acompanhou o caso.
Ninguém duvida que, quanto maior é a pobreza, maior é a dificuldade de a criança enfrentar suas adversidades. No Brasil, duas em cada cinco famílias com crianças de zero a 14 anos vivem com renda mensal inferior a meio salário mínimo por morador. “São pais tão miseráveis que nem sequer garantem sua própria manutenção”, completa o professor Antônio Marcos Chaves, da Universidade Federal da Bahia, que tem um trabalho com crianças carentes no Estado. No entanto, o presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância, Leoberto Brancher, questiona por que, em situações idênticas de miséria, uma família se desagrega, e outra não. “A que se mantém unida tem uma força interior, que está nos valores. É preciso resgatar aquilo que torna seus pais capazes de agarrar as oportunidades”, avalia. No Rio Grande do Sul, onde trabalha, Brancher convidou a ONG Escola de Pais para acompanhar as famílias de adolescentes infratores do Estado. Em Paranavaí, no Paraná, a solução foi fazer com que os moradores da própria comunidade aconselhassem as famílias de carentes. Apesar das conquistas vindas por essas iniciativas, muitos resultados ficam comprometidos pela falta de uma política pública eficiente. Por enquanto, o trabalho dessas pessoas só vem aumentando.