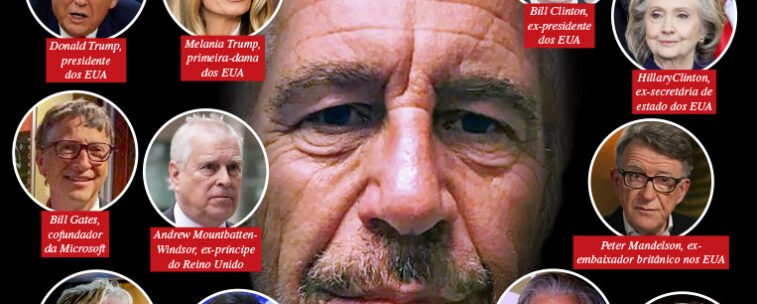22/10/2003 - 10:00
A quase quatro mil metros de altitude, La Paz, a capital política da Bolívia, vive há dez dias um clima de insurreição. Em meio a boatos de golpe de Estado, o Palácio Quemado (sede do governo) estava cercado por blindados do Exército e as ruas e vias de acesso à cidade foram bloqueadas por milhares de manifestantes – camponeses, cocaleiros, mineiros e estudantes –, que agitavam cartazes e raivosas palavras de ordem. Eles exigiam a renúncia do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que pretendia exportar o gás da Bolívia para os EUA e México através do Chile, inimigo histórico da Bolívia. Até sexta-feira 17, mais de 70 pessoas já tinham morrido em confronto com tropas do Exército. As 17h30 do mesmo dia, o assessor internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Garcia, enviado especial à Bolívia, informou que o presidente concordara em renunciar.
Desde quarta-feira 15, cerca de 50 mil pessoas, a maioria indígenas vindos de várias partes do país, se concentravam no centro e nos bairros elegantes de La Paz. “Os manifestantes estão arrancando paralelepípedos do chão para fazer barricadas. Da janela do meu quarto do hotel vi vários incêndios e uma massa humana incontrolável, duramente reprimida pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de fuzil”, disse a ISTOÉ o engenheiro eletrônico Ricardo Salvucci, um turista brasileiro que passava por La Paz em direção ao lado boliviano do lago Titicaca quando foi pego de surpresa pelos conflitos na Bolívia. Ele fazia parte de um grupo de 53 turistas brasileiros que caíram de pára-quedas no fogo cruzado na Bolívia. “No domingo passado, o Exército escoltou nossa van até a única estrada que liga La Paz ao aeroporto internacional, em El Alto. Mas a estrada estava bloqueada pelos manifestantes. Uma chuva de pedras veio em direção à van e os militares revidaram com tiros. Ficamos bem no meio da fuzilaria. Os soldados disseram que não nos levariam até o aeroporto e voltamos ao hotel”, relata Salvucci, que ficou retido no Hotel Presidente, situado nas vizinhanças do Palácio Quemado, ao lado da mulher, Lana, do irmão Marcos e da cunhada. Na sexta-feira 17, um avião Hércules C-130 da FAB resgatou de La Paz 108 pessoas – 100 brasileiros e o restante argentinos, uruguaios e mexicanos –, trazendo-as para o aeroporto de Campo Grande (MS). Os brasileiros, reunidos na residência do embaixador do Brasil em La Paz, Antonino Mena Gonçalves, foram transportados para o aeroporto J.F. Kennedy em ônibus escoltados por fuzileiros navais bolivianos.
Para os que ficaram, a situação continuava extremamente tensa. “Dezenas de milhares de pessoas estão nas ruas de La Paz. É uma manifestação impressionante”, disse a ISTOÉ o embaixador Mena Gonçalves. Muitos políticos bolivianos pediram a mediação do Brasil. “O presidente Lula, que é muito mais popular aqui do que qualquer político boliviano, deveria passar da teoria à prática para reafirmar sua liderança na América Latina. Ele deveria fazer algo para mediar a crise, poderia mandar o Marco Aurélio Garcia (assessor presidencial para assuntos internacionais), como fez na Venezuela”, apelou o deputado Andrés Guzmán, do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR-Nova Maioria), que também é presidente do grupo parlamentar boliviano-brasileiro. Na quinta-feira à noite, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Néstor Kirchner, reunidos na capital argentina para a assinatura do Consenso de Buenos Aires, decidiram enviar seus representantes para mediar a crise: Marco Aurélio Garcia, pelo Brasil, e o embaixador Eduardo Sguiglia, pela Argentina.
Gringo entre índios – O presidente Gonzalo Sánchez de Lozada é um típico representante da elite branca da Bolívia, este singular país andino em que apenas 15% da população de 8,5 milhões é de origem européia – a grande maioria descende de indígenas (aimarás e quíchuas) e mestiços.
Filho de diplomatas, Sánchez de Lozada também pertence à oligarquia que enriqueceu através de negócios na área de mineração, num dos países mais miseráveis da América Latina, em que quase 90% da população vive abaixo da linha de pobreza. Aos 73 anos, Goni, como o presidente é popularmente conhecido, fala até hoje com um sotaque fortemente americanizado, típico de quem morou a maior parte da vida nos Estados Unidos – ele é formado em literatura inglesa pela Universidade de Chicago. Goni governou a Bolívia entre 1993 e 1997 e, em agosto do ano passado, foi novamente eleito presidente. Por uma das recorrentes ironias históricas da América Latina, seu partido, o Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), foi, ao mesmo tempo, o parteiro e o coveiro da revolução social boliviana, nascida na década de 50 e sepultada nos anos 80/90. Em 1952, com o apoio da Central Operária Boliviana (COB), o MNR chegou ao poder, nacionalizou as minas de estanho, realizou uma reforma agrária e estendeu o voto aos analfabetos – então ampla maioria no país. Na época, o furacão revolucionário chegou a desmantelar o Exército, substituindo-o por milícias populares. Mas a contra-revolução começou ainda nos anos 60, protagonizada inicialmente pelo próprio MNR e, depois, pelos militares.
Três décadas e dezenas de golpes militares depois, o MNR voltou ao poder, desta vez como guardião do alinhamento à ordem americana. O ministro da Fazenda do governo Paz Estenssoro (1985-1989), o nosso Goni, ministrou uma terapia de choque neoliberal, prescrita pelo professor Jeffrey Sachs, que derrubou a hiperinflação, mas teve como efeitos colaterais o aumento do desemprego, da informalidade e da miséria. A receita foi aprimorada quando Goni chegou ao Palácio Quemado e privatizou várias estatais. Ele também iniciou, sob pressão de Washington, um programa de erradicação do plantio de folha de coca a pretexto de combater o narcotráfico. Entrou em rota de colisão com os camponeses, que perderam receitas e ainda usam essa planta para fins medicinais, uma tradição milenar entre os indígenas andinos.
No poder novamente há menos de um ano, Goni conseguiu a proeza de colocar outra vez contra si não apenas os indígenas, mas a maioria dos setores organizados da sociedade boliviana e boa parte dos políticos. Em pouco mais de uma semana, os violentos distúrbios que eclodiram em El Alto (bairro de La Paz) se estenderam pelas cidades de Cochabamba, Oruro e Santa Cruz de La Sierra. O estopim dos protestos foi o plano do governo para liberar a exportação de gás natural para os Estados Unidos e para o México através de um gasoduto que passaria pelo Chile, inimigo histórico da Bolívia, que retirou deste país o acesso ao mar depois da Guerra do Pacífico de 1879-1883 (leia quadro à pág. 111). Mas o projeto de exploração de gás pelo consórcio multinacional Pacific LNG (formado pela espanhola Repsol, pela britânica British Gas, pela anglo-americana BPA-moco e pela franco-belga TotalFinaElf) também previa redução de impostos sobre as reservas de petróleo e gás de 50% para 18%, acarretando um prejuízo de US$ 500 milhões anuais aos cofres públicos bolivianos – cerca de 17% do PIB.
Recuo – Acuado na residência oficial, depois de perder quatro ministros e o apoio do vice-presidente Carlos Mesa, Goni anunciou a convocação de um referendo sobre a exportação do gás e prometeu a convocação de uma Constituinte. Mas ele acusou a oposição de ser “uma minoria vinculada ao cultivo de coca e ao terrorismo”, que quer impor uma “narcoditadura” à Bolívia. As acusações do governo dirigiam-se principalmente aos expoentes da rebelião, o líder cocaleiro Evo Morales – presidente do Movimento ao Socialismo (MAS, segunda força política da Bolívia) e ex-candidato presidencial, derrotado por Goni em 2002 –, e Felipe Quispe, líder do Movimento Indígena Pachakuti (MIP). À teimosia do presidente se somava a intransigência da oposição. “Não tememos um golpe. A Central Operária Boliviana tem o apoio do povo. Esse governo entreguista só tem o apoio das Forças Armadas, que estão matando gente”, reagiu Jaime Solares, líder da COB. Muitos manifestantes levavam bananas de dinamite, dispostos a atacar prédios públicos. “A única solução é a renúncia. Os movimentos sociais não aceitarão nenhum diálogo enquanto Goni continuar no poder”, disse Evo Morales.
O governo, por sua vez, intimidava os meios de comunicação oposicionistas. Agentes do Ministério do Interior pressionavam emissoras de rádio e tevê e chegaram a comprar revistas que veiculavam material crítico ao governo. “Este é o pior momento dos 21 anos da democracia boliviana. Em última circunstância, se o presidente não renunciar, pode haver um golpe de Estado”, declarou a ISTOÉ o deputado Andrés Guzmán. “O boliviano prefere um regime militar ao caos”, advertiu o parlamentar. De fato, a Bolívia teve mais de 150 golpes em 178 anos de independência. Para tornar as águas ainda mais turvas, o comandante das Forças Armadas, general Roberto Claros, assegurou que os militares respaldavam Goni “como integrante de um governo legítimo, mas não como pessoa.”
A saída do impasse boliviano vai depender da possibilidade de um diálogo político, como houve na Venezuela, onde, por pressão externa, as posições aparentemente irreconciliáveis do governo e da oposição foram colocadas na mesa de negociações. Na Argentina, as manifestações de 2001 puseram para correr o presidente Fernando de la Rúa, mas o país saiu da crise sem macular suas instituições democráticas. No mesmo ano, no Equador, uma rebelião indígena apoiada por militares levou à renúncia do presidente Jamil Mahuad. Um dos líderes da rebelião, o coronel Lucio Gutierrez, foi preso, mas acabou eleito presidente em 2002. Se a renúncia de Gonzalo Sánchez de Lozada abrir caminho para uma saída institucional, a Bolívia terá entrado no clube dos países que começam a experimentar o clima de normalidade democrática, ainda que de maneira turbulenta.
| |||
| |||