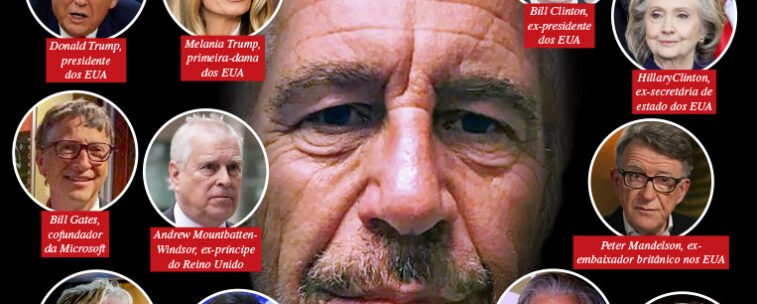08/10/2003 - 10:00
Um um século, o Brasil se transformou em uma respeitável economia industrial, mudou-se de mala e cuia da roça para a cidade e esteve entre os cinco países com maior crescimento do PIB, ao lado de países bilionários como Japão, Finlândia, Noruega e Coréia. Mas um passeio pela história da distribuição das riquezas não deixa dúvidas: os governantes e economistas que guiaram a Nação nesses 100 anos merecem uma bela salva de vaias. Dois importantes estudos divulgados na semana passada consolidam a certeza de que, na busca da justiça social, objetivo maior de toda nação moderna, o Brasil foi um fracasso. O IBGE divulgou as Estatísticas do século XX, uma publicação de 543 páginas acompanhada por um CD-ROM com 16.500 arquivos, com números de diversas fontes. O PIB brasileiro se multiplicou por 100, o PIB per capita cresceu 12 vezes, mas a persistência da concentração justifica os apupos. Em 1960, a renda dos 10% mais ricos era 34 vezes maior do que a dos 10% mais pobres. Com ditadura ou democracia, cruzeiro, cruzado ou real, o contraste se manteve entre os maiores do mundo. A diferença entre os dois extremos chegou a 60 vezes em 1990 e só recuou para 47 no fim do século por causa do combate à inflação nos anos 90. A outra divulgação, que também constrange os gestores públicos, foi a do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, mostrando que o índice de gini (usado mundialmente para medir concentração de renda) cresceu em dois terços dos municípios brasileiros na década de 90.
O gini mede uma série de variáveis sociais, de renda per capita a vasos sanitários, e sua escala varia de zero a um. Zero significaria a mesma renda para todos e um seria a concentração de absolutamente tudo com uma só pessoa. O Brasil não chegou a esse extremo impossível, mas parece se esforçar. Mesmo num cenário de inflação sob controle, nos anos 90 a desigualdade só diminuiu em 1.483 municípios (27%), permanecendo inalterada em 370 (6,7%) e crescendo em 3.654 (66,3%). Em 23 Estados, o gini de 2000 foi pior do que o de 1991. As exceções foram Roraima, onde caiu de 0,65 para 0,62, e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia, onde permaneceu estável. O mais desigual é o de Alagoas, com 0,69, e o menos desigual continua sendo o de Santa Catarina, com 0,56.
A publicação do IBGE é um estudo inédito das estatísticas produzidas no Brasil no século XX. Mostra os avanços e recuos de uma civilização que saltou de 17,4 milhões para 169 milhões. Entre os avanços, destaca-se o bom resultado do esforço para universalizar a educação fundamental – mesmo com qualidade duvidosa – no fim dos anos 90, o aumento da expectativa de vida de 33,6 para 68,6 anos, a redução da mortalidade infantil de 162,4 para 29,6 mortes em cada mil crianças – um índice ainda alto – e o controle de algumas doenças ameaçadoras. Em três décadas, de 1970 a 1999, os casos de paralisia infantil caíram de 2.391 para 35 e os de sarampo, de 35 mil para 910. A saúde pública, no entanto, amarga frustrações dolorosas na chegada do século XXI. A malária, que em 1946 atingiu 100 mil brasileiros, chegou a 568 mil em 1994. A hanseníase saltou de 5 mil casos em 1970 para 83 mil em 1999 e a tuberculose, de 36 mil para quase 79 mil no mesmo período.
Os vilões – Os avanços em alguns indicadores sociais e o aumento da produção industrial foram as estrelas do espetáculo do crescimento no século passado, produzido especialmente pelas intervenções do Estado na economia dos anos 30 aos 70. A taxa média de crescimento do Brasil, de 4,49% ao ano, só ficou atrás de Taiwan (5%), empatando com a Coréia do Sul (4,5%). Na outra ponta, como vilões da aventura brasileira estão a chaga da desigualdade e a inflação de triste memória. O Brasil mudou de moeda nove vezes. Os réis resistiram bravamente de 1889 a 1942, quando começou a sucessão de cifrões: cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e, finalmente, o real. Os dígitos da inflação no período não cabem no visor da calculadora: 1,1 quintilhão por cento.
A economia cresceu e a industrialização superou a agricultura, mas
o País chegou ao fim do século com uma presença menor no comércio internacional do que quando era um mero exportador de borracha e
café. O Brasil respondia por 1,5% das exportações do mundo no início
do século e chegou a representar 2,2%, mas cruzou a linha de chegada só com 0,8% do quinhão. Se tem algo do qual os gestores da economia nacional não podem reclamar é de falta de dinheiro para gerir as contas públicas: a carga tributária passou de singelos 10% do PIB em 1900
para vorazes 33% em 2000.
Durante todo o século, em especial na segunda metade, a desigualdade social galopou lado a lado com o dragão inflacionário. Quando os desacertos econômicos desembocaram na “década perdida” de 80, o poder de compra do trabalhador iniciou uma trajetória descendente.
A média de remuneração do trabalho equivalia a R$ 485 em 1981 e chegou a 1991 em R$ 449. A economia verde-amarela, campeã de crescimento até 1973, estagnou-se e passou para o 93º lugar nas
duas últimas décadas. Na maratona mundial da globalização, estamos
na lanterninha, a mesma posição em que os indicadores de injustiça
e desigualdade sempre colocaram o País.
Ao divulgar as Estatísticas do século XX, na segunda-feira 29, no Rio, o IBGE homenageou o economista Celso Furtado, indicado para o Prêmio Nobel de Economia pela luta em favor da distribuição de renda. Presente, o ministro do Planejamento, Guido Mantega, exaltou a história de Furtado e disse que no século XX o Brasil cresceu durante 80 anos e patinou os outros 20. “No século XXI espero que o Brasil cresça pelo menos 80 anos com taxas elevadas, mas o País não conseguirá alcançar as nações desenvolvidas se não resolver a distribuição de renda”, disse o ministro Mantega, recepcionado por funcionários públicos que pediam aumento salarial através de uma faixa com os dizeres: “Estatísticas do século XX, salários do século XIX.”
A publicação é aberta com uma entrevista de Celso Furtado, criador da Sudene, ao presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, para quem “o país rico não se tornou justo”. Furtado aponta como principais desafios do Brasil o crescimento do mercado de consumo interno e a criação de empregos no campo, com investimento em agricultura familiar sem inviabilizar a produção mecanizada das grandes propriedades, que mantém o Brasil como grande exportador de grãos. O balanço do século, na visão de Furtado, mostra que o esvaziamento do campo só gerou desemprego e subemprego nas cidades. O Brasil, que tinha a faca e o queijo na mão, cruzou a linha de chegada da corrida do século XX “com esse bolsão enorme de desempregados e subempregados urbanos”.
Aos 83 anos e ainda crítico do latifúndio, o ministro do Planejamento do governo João Goulart provoca: “Como defender esse modelo de desenvolvimento, que cria desemprego e subemprego num país de terras abundantes e ociosas? Por que a invasão de terras preocupa mais do que a constatação do imenso número de desempregados e subempregados?” Ao descuidar da construção de um mercado de consumo interno, segundo Furtado, o Brasil deu seu grande passo para trás. “Para haver um mercado de massa é preciso que a renda seja redistribuída. É uma luta que integra, por um lado, a questão de privilegiar o mercado interno e, por outro, a de privilegiar a desconcentração de renda”, ensina o professor. A lição parece óbvia, mas, se tivesse sido seguida por seus alunos e colegas, o Brasil não chegaria ao século da tecnologia e da informação com uma estrutura social dos tempos do Império.