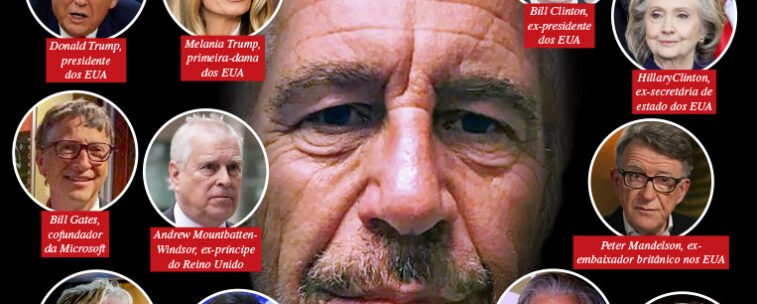28/07/2004 - 10:00
A Floresta Amazônica é um retrato do Brasil: um grande mosaico em que cada um cuida de seus próprios interesses, com rara atenção para motivações coletivas. Boa parcela dos produtores de soja e pecuaristas defende o desenvolvimento a qualquer preço ao estender seus domínios pela mata. Os madeireiros derrubam árvores como se não houvesse amanhã. E os ambientalistas sonham em manter uma imensa reserva intocada. Enquanto isso, a população nativa sabe que seu sustento depende da exploração dos recursos cada vez mais exíguos da floresta. Ao longo da história, esse ciclo vicioso se traduziu em aumento progressivo das queimadas. Só em 2003, o fogo lambeu 23.750 quilômetros quadrados de verde, área maior do que o Estado de Sergipe. No total, 14% dos 5,5 milhões de quilômetros quadrados de área original já viraram fumaça.
O desafio de organizar tantos interesses conflitantes e divergentes dependia de um conhecimento científico até então inexistente. A partir de terça-feira 27, cerca de 800 cientistas brasileiros e estrangeiros se reúnem em Brasília para apresentar 700 trabalhos e descobertas com o que há de mais novo sobre o papel da floresta. O objetivo é dar um largo passo na direção de produzir uma forma racional – e realista –, de planejar o desenvolvimento de um dos mais ricos patrimônios naturais do mundo. Essa será a tônica da III Conferência Científica do LBA (sigla em inglês para Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia).
O LBA surgiu em 1998, como uma reação da comunidade científica brasileira à violenta destruição da floresta no fim dos anos de 1980. Em seis anos de pesquisa sobre o clima amazônico, o experimento somou investimentos de US$ 80 milhões, sendo US$ 35 milhões em recursos brasileiros, igual parcela da agência espacial americana Nasa, e outros US$ 10 milhões da União Européia. Houve grande preocupação com o acesso de pesquisadores estrangeiros a dados vitais da Amazônia. Tanto que o governo brasileiro levou dois anos debruçado sobre as propostas, preocupado com o risco de perder a hegemonia na região. Para o meteorologista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um dos pais do LBA, o temor era infundado: “Esses cientistas desse grupo são alguns dos melhores nomes mundiais, e trabalham de forma independente da vontade de seus governos”, afirma.
A constatação mais impressionante é que o desmatamento pode reduzir a quantidade de chuvas não só na Amazônia, mas em outras regiões do País. Outras pesquisas apontam para um nefasto cenário com mais estiagem e aumento nas emissões de dióxido de carbono (CO2), o grande vilão do efeito estufa e do aquecimento global. Buscam-se ainda números precisos sobre emissão e absorção de CO2 na floresta, informação fundamental para as negociações do protocolo de Kyoto, tratado internacional de redução de poluentes. Um exemplo é a experiência que há três anos provoca o ressecamento da floresta de Tapajós, em Santarém, Pará, mostrando que o desmatamento reduz a transpiração das árvores e diminui a evaporação e a formação das nuvens.
Desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e coordenada por Paulo Moutinho, ecólogo do Instituto de Pesquisas Amazônicas (Ipam), a técnica consiste em reduzir a precipitação com a instalação de seis
mil painéis plásticos durante os períodos de estiagem. A chuva corre por calhas
e é lançada longe da floresta. A idéia é prever como a vegetação reagirá se o processo de aquecimento global continuar. As conclusões são alarmantes: o crescimento das árvores foi reduzido, assim como a floração e os frutos, e a mortalidade das árvores triplicou.
Os alunos de Carlos Nobre, do Inpe, também analisam como a mata se comportará em 2100 se o efeito estufa continuar. O veredicto é que de 20% a 60% da floresta poderá se transformar em cerrado, com o desaparecimento de muitas espécies. Outra consequência seria o aumento do aquecimento global. “Isso ocorreria porque o cerrado tem menos capacidade de estocar carbono, provocando mais aumento nas temperaturas”, adverte Nobre.
O LBA desenvolve 40 pesquisas
de campo na Amazônia, em uma
das maiores investigações ambientais
já realizadas no mundo. Os estudos
foram concentrados em três grandes regiões: ao redor de Manaus, onde a floresta é mais preservada; em Rondônia, que concentra as áreas mais devastadas; e em Santarém, uma região de exploração intermediária. Há estudos complementares nas florestas do Peru, Bolívia, Equador e Venezuela. Dezessete torres funcionam como plataformas de pesquisa e observação da vegetação e da atmosfera. Para Nobre, a maior contribuição do LBA é o treinamento contínuo de pesquisadores em ciência de ponta. “A Amazônia só terá chances de sobreviver se encontrarmos valores para os produtos florestais, o que requer muita pesquisa”, acrescenta.
O que se pretende é usar o conjunto de informações para orientar a exploração da floresta e de seus recursos. A mistura de disciplinas no projeto tem resultado em contribuições científicas inovadoras. Ao analisar a atmosfera em Rondônia e Mato Grosso, o físico paulistano Paulo Artaxo, coordenador do Instituto do Milênio do LBA, descobriu que a grande quantidade de partículas emitidas pelas queimadas acarreta a supressão da formação de gotículas nas nuvens. As gotas formadas ficam muito reduzidas e evaporam antes de precipitar, diminuindo a chuva na região. Com isso, quanto mais queimada, menos chuva, o que realimenta o ciclo destrutivo. “Quando as chuvas diminuem, aumenta a incidência de queimadas, o que agrava o efeito estufa”, alerta Artaxo.
Idéias simples – Embora a queimada beneficie as plantações no curto prazo, porque as cinzas são ricas em sais minerais, no longo prazo ela destrói o solo. As novas descobertas do LBA ampliam em muito a possibilidade de sucesso dos que estudam a Amazônia em busca de respostas e indicações para orientar a adoção de políticas públicas para a região. As respostas são muitas, mas todas dependem de decisão política e atitudes firmes por parte do Estado. Para o físico Paulo Artaxo, uma das soluções para a exploração racional da região amazônica passa por uma definição das vocações e atividades econômicas de cada município, pela criação de políticas de uso de solo pelo Estado e pela coordenação dessas ações pelo governo federal. É preciso, segundo ele, desenvolver estratégias de uso sustentado de uma grande parcela da floresta que já foi desmatada e posteriormente abandonada. “A Amazônia é patrimônio de todos os brasileiros. Não podemos mais dividir os prejuízos da destruição e capitalizar os lucros”, diz.
Algumas descobertas científicas chegam a ser idéias simples. Em sua sede em Belém, a Embrapa promove uma experiência para desenvolver a agricultura em área desmatada de pequenas propriedades, sem provocar queimadas. A prática habitual é a derrubada da mata entre maio e junho. Em vez de lançar fogo, os técnicos deixam os troncos no solo, para secar. A queima das árvores derrubadas acontece em setembro, antes da chegada das chuvas. “A idéia é deixar a mata derrubada para ser assimilada pelo solo. Com o aumento da quantidade de matéria orgânica, aumenta também a quantidade de nutrientes do solo, o que melhora o potencial agrícola da área”, explica Artaxo. Outro processo, voltado à exploração madeireira de grande porte, está em andamento na Embrapa. Ele começa pelo levantamento do estoque de madeira existente na área e a verificação das espécies de maior valor comercial. Normalmente, ao ser derrubada, uma árvore de grande porte leva consigo outras 25, que costumam estar entrelaçadas por cipós. O que os pesquisadores buscam é a melhor forma de retirar a madeira da floresta sem provocar mais destruição. “São medidas de baixo impacto, que também geram ganhos econômicos”, diz Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisas Amazônicas.
Outra pesquisa, concluída em janeiro, ajuda a explicar como a floresta atua na formação das chuvas. Um grupo de bioquímicos estudou os processos que
levam à emissão de compostos orgânicos pela vegetação, além de avaliar a emissão de gás carbônico e de vapor d’água, que atuam na formação das
nuvens. Como há muita disponibilidade de vapor d’água e poucas partículas,
as gotas de nuvens são grandes e se precipitam facilmente, evitando a formação
de nuvens profundas e altas. “Só foi possível chegar a esse resultado por causa
das pesquisas interdisciplinares”, observa o paranaense Flávio Luizão, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Inpa), órgão coordenador de pesquisa científica do LBA. Conclusões como essas são apenas as primeiras pistas para desvendar as entranhas do “inferno verde” e abrir caminho para o desenvolvimento sustentado da Amazônia. Só assim se poderá avaliar qual é a sua real importância para o Brasil e para a humanidade. Feito isso, o governo brasileiro terá todo
o diagnóstico necessário para agir com inteligência e deixar sem argumentos
os defensores da flexibilização da soberania brasileira na região. Se realmente
vai agir, é outra questão.