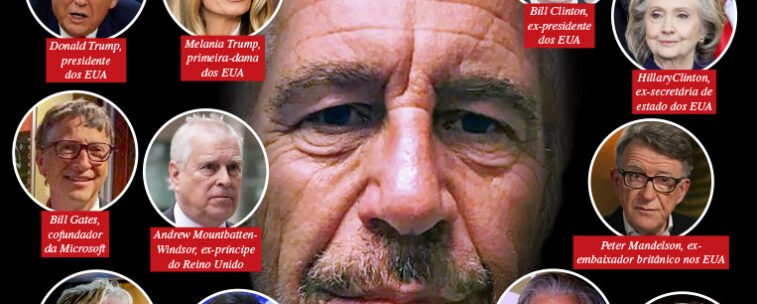06/10/2004 - 10:00
Ucraniano naturalizado brasileiro, o escritor e tradutor Boris Schnaiderman, 87 anos, lembra com detalhes um episódio que todo amante do cinema gostaria de ter presenciado. Com apenas oito anos, andando pelas ruas de Odessa, na antiga União Soviética, ele se deparou com uma exótica multidão. Era o ano de 1925, mas homens e mulheres se vestiam com pesadas roupas do início do século. O menino estranhou que, em dado momento, os homens atirassem o chapéu para o ar, como se celebrassem algo. Na mesma época, sua família migrou para o Brasil e a imagem se perdeu na memória. O pai, comerciante judeu, não se adaptou ao sistema comunista. Já no Brasil, numa sessão de cinema, reviu surpreso aquela cena da infância. Descobriu que acompanhara, sem saber, as filmagens de O encouraçado Potemkin, obra-prima do cineasta russo Sergei Eisenstein, que trata do levante de marinheiros ocorrido em 1905.
Entre os mais importantes intelectuais brasileiros e tradutor – direto do original – de 25 obras clássicas da literatura russa, Schnaiderman relata feitos como este com plácida modéstia. Tanta modéstia que, na década de 40, no início da vida de tradutor assinou trabalhos com o pseudônimo de Boris Solomonov, entre eles A fossa, de Aleksandr Kuprin. “Naquela época, traduzir para mim era uma leviandade”, afirma Schnaiderman, responsável pelas versões brasileiras de O eterno marido e Memórias do subsolo, de Fiodor Dostoievski, A morte de Ivan Illitch, de Lev Tolstoi, além de obras de Anton Tchekov, Vladimir Maiakovski e Issac Babel. Por pressão da família, ele dedicava seu tempo à agronomia, atividade interrompida em 1944, quando foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. “Tinha absoluta convicção da necessidade de lutar. Era movido por uma revolta muito grande, não só pela minha origem judia mas pelos massacres que atingiam não apenas os judeus mas a todos na Europa.”
A participação de Schnaiderman como sargento de artilharia e controlador de tiro vertical na Força Expedicionária Brasileira (FEB) originou seu único livro de ficção – Guerra em surdina (Cosacnaify, 256 págs., R$ 39,50). Lançado originalmente em 1964, o volume foi recebido com críticas elogiosas, mas teve pouca repercussão. “A capa afastava os potenciais leitores. Representava a figura de um soldado tristonho, numa época em que muita gente não queria saber de soldados e caserna devido ao golpe militar”, justifica. A quarta e mais recente edição , com revisões estilísticas e alterações na lógica narrativa, redime de certa forma a aventura ficcional do grande tradutor. Ficcional em termos, já que registra, ainda que camufladas, suas vivências no front italiano. Boa parte delas narradas por seu alter ego, João Afonso.
Situação absurda – Há passagens reais, como no capítulo “Naufrágio”, em que ele interroga suspeitos de espionagem. Das descrições do embarque, em julho de 1944 num navio no Rio de Janeiro, até a euforia do fim do conflito e a alegria da volta, em abril de 1945, é um livro que se lê de uma vez. “Embarcamos no maior segredo. Mas, para nossa surpresa, as pessoas ficavam dando adeus da rua para a gente durante o dia inteiro em que o navio ficou ancorado. Era uma situação absurda.” O escritor rebate a desconfiança que até hoje cerca a presença brasileira na Itália. E reconhece que, até pela demora do governo em decidir pelos aliados, havia uma falta de entusiasmo generalizada, aliada ao nítido despreparo. “Todo nosso treinamento e equipamentos vieram dos franceses, com quem o Exército brasileiro tinha vínculo. Fui para a guerra sem conhecer o armamento que ia usar. No Brasil, aprendi num canhão 75 milímetros. Lá, por causa dos americanos, usamos um 105 milímetros, o que obrigava um cálculo bem diferente. Por sorte não aconteceu uma tragédia.”
Guerra em surdina começou a ser esboçado na própria Itália e levou 19 anos para ser concluído numa Olivetti portátil. Não faltam personagens cativantes, até porque, ainda que com outros nomes, eles existiram. Como reais eram todas as situações descritas. Schnaiderman lembra a espera enervante pelo combate num acampamento montado na cratera de um vulcão, as bravatas dos americanos, a camaradagem dos camponeses italianos e a inevitável barbárie. Descreve com realismo o odor fétido das latrinas entupidas, o frio, a inquietação sexual, a ressaca de vinho vagabundo, as correspondências abertas e censuradas, o medo permanente.
A ótima estréia na ficção não o desviou, contudo, das traduções, dos bancos acadêmicos e dos ensaios. A modéstia, de novo, o faz rever as antigas traduções. “Caprichei tanto que dei solenidade demais ao texto. Querendo ser muito fiel, acabei por falsear o original. A tradução pode ser mais fluente, mais comunicativa, com o espírito da língua portuguesa do Brasil de hoje.” É o que busca, sempre com o estímulo da mulher, a professora Jerusa Pires Ferreira, no acabamento de Um jogador, romance semibiográfico de Dostoievski, que Schnaiderman promete verter para um português tão límpido que transportará o leitor milagrosamente para a Rússia czarista.